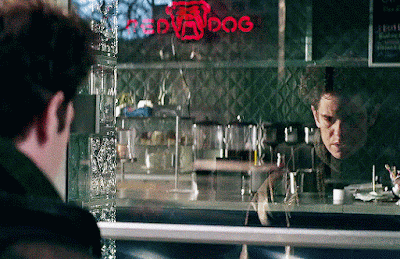E não se esqueçam de curtir e seguir o blog nas redes sociais:
(And don't forget to like and follow the blog in social medias:)
Facebook: https://www.facebook.com/NoCinemaComJoaoPedroBlog/
Twitter: @nocinemacomjp2
Instagram: @nocinemacomjp
E aí, meus caros cinéfilos! Tudo bem com vocês? Estou de volta, para falar sobre um dos musicais mais aguardados de 2021, o qual já está disponível no catálogo original da Netflix! Contando com uma abordagem inventiva no roteiro, uma performance digna de Oscar de seu protagonista e aspectos técnicos que conseguem trabalhar o tema principal da obra de maneira essencialmente angustiante, o filme em questão encontra o diretor estreante Lin-Manuel Miranda em sua obra mais pessoal, mergulhando dentro do processo criativo de um dos maiores gênios do teatro musical de forma dinâmica, emocionante e frenética. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre “tick, tick... BOOM!”. Vamos lá!
(What's up, my dear film buffs! How are you guys doing? I'm back, in order to talk about one of the year's most anticipated movie musicals, which is already streaming on Netflix's original catalog! Relying on an inventive approach on its screenplay, an Oscar-worthy performance by its protagonist and technical aspects that manage to work with the piece's main theme in an essentially distressing way, the film I'm about to review finds debuting director Lin-Manuel Miranda in his most personal work, diving into the creative process of one of the greatest geniuses in musical theater in a dynamic, emotional and fast-paced way. So, without further ado, let's talk about “tick, tick... BOOM!”. Let's go!)
Baseado no musical semi-autobiográfico de mesmo nome de Jonathan Larson, “tick, tick... BOOM!” acompanha o próprio Larson (Andrew Garfield), um jovem compositor que trabalha como garçom em Nova York, enquanto sonha em escrever um grande musical americano que o levará ao estrelato, com o qual ele já vinha trabalhando por oito anos. Quando seu colega de quarto, Michael (Robin de Jesús), aceita um emprego corporativo e está prestes a se mudar, próximo ao seu aniversário de 30 anos, Jonathan é tomado pela ansiedade de que seu sonho é irreal e que não vale a pena continuar lutando por ele, especialmente com a epidemia de HIV/AIDS afetando diretamente seu círculo mais íntimo de amigos.
(Based on the semi-autobiographical stage musical of the same name by Jonathan Larson, “tick, tick... BOOM!” follows Larson himself (Andrew Garfield), a young songwriter who works as a waiter in a New York diner, while dreaming of writing a great American musical that will lead him to stardom, which he had been working on for eight years. When his roommate, Michael (Robin de Jesús), accepts a corporate job and is about to move out, close to his 30th birthday, Jonathan is taken by the anxiety that his dream is unreachable and that's it's not worth fighting for it, especially with the HIV/AIDS epidemic directly affecting his inner circle of friends.)
Assim como a grande maioria dos filmes lançados este ano (e analisados aqui no blog), eu estava com expectativas bem altas para assistir “tick, tick... BOOM!”, especialmente por quatro razões principais. A primeira: o filme seria um musical baseado em fatos reais. Só por aí, a obra já mereceu um destaque na minha lista. A segunda: “tick, tick... BOOM!” é uma semi-biografia de Jonathan Larson, mais conhecido pelo revolucionário musical de palco “Rent”, que ficou em cartaz por 12 anos na Broadway e ganhou uma quantidade enorme de prêmios, incluindo o Tony de Melhor Musical e o Prêmio Pulitzer de Drama. Infelizmente, Larson não teve a chance de ver o seu sucesso, por ter sofrido uma morte prematura aos 35 anos, um dia antes da primeira performance pública de “Rent”, em decorrência de uma dissecção da aorta, causada por uma síndrome de Marfan não-diagnosticada.
A terceira: o filme seria a estreia na direção de Lin-Manuel Miranda, o gênio responsável pela obra-prima que é “Hamilton” e por “Em um Bairro de Nova York”, também lançado este ano; e também contaria com a colaboração de Steven Levenson, roteirista de “Querido Evan Hansen”, na adaptação do musical para as telas. A quarta e última: o fato de Miranda ser fã declarado da obra de Larson. Além de “Rent” ter sido o musical que o inspirou a escrever suas próprias obras-primas, Miranda percorreu praticamente o mesmo percurso de Larson ao compor “Hamilton”, passando 6 anos de sua vida compondo o musical completamente cantado sozinho, assim como Larson fez com todas as suas obras, tanto finalizadas como inacabadas.
“Hamilton” estreou na Off-Broadway em 2015, e virou um verdadeiro fenômeno nos EUA ao expandir seu alcance para o teatro Richard Rodgers em Nova York, se tornando um sucesso de bilheteria e ganhando 11 Tonys e o Prêmio Pulitzer de Drama, as mesmas honras que marcaram a jornada de “Rent” na Broadway. Além disso, Miranda interpretou o papel de Jonathan em uma montagem de 2014 do musical de palco de “tick, tick... BOOM!”, tendo como colega de palco Leslie Odom, Jr., o futuro Aaron Burr da companhia original de “Hamilton”. Então, sob esse ponto de vista, Miranda é literalmente a pessoa perfeita para dirigir um filme sobre Jonathan Larson.
Em preparação para o filme, eu assisti à uma performance gravada de “Rent”, lançada em 2008, último ano do musical na Broadway. Fiquei impressionado com a humanidade e a crueza utilizadas por Larson ao abordar o modo de vida boêmio dos habitantes de Alphabet City, em NY, durante a epidemia de HIV/AIDS. Também adorei o fato de “Rent” ser completamente cantado, uma característica que “Hamilton” pegou emprestado. As músicas de Larson, majoritariamente pertencentes ao gênero do rock, são simplesmente incríveis, abordando temas como pobreza, abuso, preconceito, vício e sonhos frustrados de forma extremamente realista e sensível, desenvolvendo perfeitamente o seu elenco diverso de personagens.
A presença de Andrew Garfield interpretando Jonathan na adaptação do musical semi-autobiográfico de Larson e as primeiras críticas positivas após sua exibição em Nova York aumentaram ainda mais as minhas expectativas, e eu fico muito, mas muito feliz em dizer que “tick, tick,... BOOM!” não é só o melhor musical do ano até agora (sim, ainda teremos musicais em 2021), mas também um dos melhores filmes de 2021, tendo amplas capacidades de obter sucesso na vindoura temporada de prêmios e alcançar indicações nas categorias principais do Oscar, em especial Melhor Filme, Melhor Direção para Lin-Manuel Miranda, Melhor Ator para Andrew Garfield e, como vocês poderão ver nos parágrafos seguintes, Melhor Roteiro Adaptado.
Ok, com isso dito, vamos falar do roteiro. Como dito anteriormente, o musical foi adaptado por Steven Levenson para as telas, e a primeira coisa que me chamou a atenção foi a abordagem escolhida pelo roteirista e pelo diretor para trabalhar a narrativa originada por Larson. Para aqueles que não sabem, “tick, tick... BOOM!” começou como um monólogo do próprio Jonathan Larson, que conta a história de sua trajetória para trazer um musical distópico chamado “Superbia” para os palcos, às vésperas do seu aniversário de 30 anos. E o interessante sobre a abordagem de Levenson é que ela possui duas perspectivas principais: o filme transita entre cenas ambientadas neste monólogo, apresentado em 1991, e as dramatizações dos eventos relatados por Larson nessa apresentação.
A dinâmica entre estes dois pontos de vista é feita de maneira bem orgânica, de modo que é quase impossível o espectador se perder. É algo bem fácil de acompanhar. Há também algumas partes dentro dessas dramatizações onde o protagonista quebra a quarta parede, se direcionando à câmera, e simultaneamente, ao seu público, na perspectiva de monólogo. Esta dupla perspectiva acaba por misturar o gênero principal do filme, que é o musical, com uma dose generosa de drama, uma pitada de comédia e até uma vibe impressionante de documentário, especialmente nas partes ambientadas no monólogo mencionado. Achei essa escolha criativa brilhante, pela metalinguagem que ela acaba aplicando à narrativa como um todo.
Outro destaque do roteiro é o passo, que, fazendo jus ao título, transforma o longa-metragem uma verdadeira bomba-relógio. Há um sentimento intoxicante de ansiedade e angústia onipresente ao longo das sucintas 2 horas de filme. E grande parte do porquê do ritmo ser frenético se dá pela escolha do roteirista de nos inserir dentro da mente do protagonista, uma das melhores decisões criativas dessa adaptação de “tick, tick... BOOM!”. Jonathan Larson passou 8 anos de sua vida escrevendo “Superbia”, se isolando do mundo e de seu círculo interior de amigos para completar sua obra sob enorme pressão, tanto pelas expectativas do sucesso do musical, quanto pelo efeito da epidemia de HIV/AIDS em sua vida, a qual, prematuramente, já tinha levado três de seus amigos à morte. E o roteiro de Levenson, trabalhando em conjunto com a performance de Garfield e o uso muito bem-calculado dos aspectos técnicos, faz com que o próprio espectador sinta essa pressão na pele de uma maneira extremamente eficiente.
Outro aspecto louvável do trabalho de Levenson em “tick, tick... BOOM!” é o retrato do processo criativo de Larson ao compor “Superbia”, outra vantagem vinda da abordagem imersiva do roteiro dentro da mente de seu protagonista. Há várias partes onde Jonathan, do nada, tem uma ideia. Aí, ele pega um bloquinho de notas e anota aquela ideia. Há também várias cenas fantasiosas (lê-se: números musicais) que ajudam a desenvolver a mentalidade de Larson como compositor perfeitamente. Dois exemplos claros disso se encontram aqui: existe uma sequência musical ambientada na lanchonete onde o protagonista trabalha, e várias gerações de atores da Broadway dão as caras, cantando e dançando juntos em um número extremamente bem coreografado; e há uma cena onde Jonathan está sem inspiração e vai nadar em uma piscina, e lá no fundo, ele acaba encontrando as notas musicais que ele precisa para compor uma canção.
Outro aspecto narrativo que vale a pena destacar em “tick, tick... BOOM!”, mesmo que diga mais respeito à direção de Lin-Manuel Miranda do que ao roteiro de Levenson, é toda a paixão inserida no filme pelo elenco e pela equipe. Já falei isso, mas vale a pena reafirmar: não havia ninguém melhor para comandar esse projeto do que Lin-Manuel Miranda. Pelo que foi afirmado acima, Miranda seria o mais próximo que temos de um Jonathan Larson do século XXI. Ele é fã de carteirinha do trabalho de Larson e é familiarizado com o processo criativo de um compositor de teatro, e Levenson usa essas duas características do diretor para agradar dois públicos ao mesmo tempo: o roteiro apresenta o mundo do teatro musical de uma maneira bem intuitiva e didática para aqueles que ainda não eram tão próximos dele; e insere algumas referências deliciosas para os fãs mais fervorosos da Broadway e do próprio trabalho de Larson, como “Rent”.
Um último destaque que gostaria de fazer sobre o roteiro de “tick, tick... BOOM!” são os temas que ele aborda, e eles variam de temas universais à alguns que são específicos do mercado de teatro musical. A abordagem de temas relevantes como angústia, ansiedade, saúde mental, depressão, perseguir seus sonhos e acreditar em você mesmo quando ninguém mais acredita ajuda o espectador a visualizar a história de Jonathan Larson como uma verdadeira história de superação, mesmo com sua morte prematura. Há uma crítica afiadíssima à originalidade no meio do teatro musical, e a maneira que Levenson e Miranda encontram para fazer essa crítica é simplesmente brilhante.
Porém, o tema mais recorrente aqui, certamente, é o tema do legado, no sentido de “o que a pessoa planeja deixar para o mundo quando ela partir”. E o mais impressionante sobre esse tema é como ele perpassa a obra inteira tanto do próprio Jonathan Larson quanto do diretor, Lin-Manuel Miranda. Em “tick, tick... BOOM!”, Jonathan se preocupa constantemente em completar seu musical, algo que ele acredita ser seu legado. Em “Rent”, um dos protagonistas, Roger, se preocupa em escrever uma última música antes de morrer, sendo soropositivo. Em “Um Bairro de Nova York”, os protagonistas se mantêm ligados ao legado deixado pelos seus antepassados para que a cultura deles sobrevivesse. E em “Hamilton”, o personagem-título é constantemente preocupado com o legado que ele deixará para o mundo. Veêm como Miranda foi a pessoa perfeita pra dirigir esse filme?
E, para finalizar essa parte do roteiro, pode ser feito um paralelo interessante entre a epidemia de HIV/AIDS e a pandemia de COVID-19, o que daria à “tick, tick... BOOM!” um caráter necessário, atemporal e urgente para os dias de hoje. Assim como a AIDS, o coronavírus tomou muitas vidas prematuramente, e levou muitas pessoas a terem problemas de angústia, ansiedade e até depressão, pela rápida e massiva proliferação do vírus. Uma razão para fundamentar este paralelo entre estes dois eventos é justamente o passo rápido e frenético do filme, que faz a obra parecer uma bomba prestes a explodir. Esta escolha criativa acaba por dar à adaptação um significado simbólico extra, dada a morte prematura de Jonathan Larson aos 35 anos em 1996.
Resumindo, o roteiro de “tick, tick... BOOM!” consegue retratar o processo criativo de um dos maiores gênios do teatro musical com enorme sucesso, graças à abordagem inventiva de suas duas perspectivas principais; ao passo rápido da narrativa, que injeta a trajetória de Jonathan Larson com um sentimento onipresente de ansiedade e angústia; e aos temas abordados na trama, que dão ao filme um caráter relevante, atemporal e necessário, despertando possíveis comparações impressionantes entre a ambientação do filme e os dias de hoje. Tô torcendo para que seja indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Adaptado!
(Just like the great majority of films released this year (and reviewed here, in the blog), I had pretty high expectations to watch “tick, tick... BOOM!”, especially for four main reasons. The first one: the movie would be a musical based on true events. Just because of that, it earned a special place on my list. The second one: “tick, tick... BOOM!” is a semi-biopic of Jonathan Larson, best known for creating the revolutionary stage musical “Rent”, which played performances on Broadway for 12 years and won an enormous amount of awards, including the Tony Award for Best Musical and the Pulitzer Prize for Drama. Unfortunately, Larson didn't get the chance to experience his success, as he suffered a premature death at the age of 35, one day before the first public performance of “Rent”, due to an aortic dissection, caused by an undiagnosed Marfan syndrome.
The third one: the film would be the directorial debut of Lin-Manuel Miranda, the genius who's responsible for the masterpiece that is “Hamilton” and “In the Heights”, which was also released this year; and would also count on the collaboration of Steven Levenson, writer of “Dear Evan Hansen”, in the theatrical adaptation of the musical. The fourth and last one: the fact that Miranda is a declarated fan of Larson's work. Besides “Rent” being the musical that inspired him to write his own masterpieces, Miranda walked practically the same path as Larson when writing “Hamilton”, spending six years of his life solely composing the entirely sung-through musical, just like Larson did with all of his work, complete or not.
“Hamilton” premiered Off-Broadway in 2015, and became a true phenomenon in the US after expanding its reach to the Richard Rodgers Theatre in New York, becoming a box-office success and winning eleven Tony Awards and the Pulitzer Prize for Drama, the same honors that marked “Rent”'s journey on Broadway. Besides that, Miranda played the role of Jonathan in a 2014 production of the “tick, tick... BOOM!” stage musical, with Leslie Odom Jr. (aka Aaron Burr in the original company of “Hamilton”) as one of his stage partners. So, taking that point of view into consideration, Miranda is literally the most perfect and fitting person to direct a film about Jonathan Larson.
In preparation for the movie, I watched a recorded performance of “Rent”, released in 2008, its last year on Broadway. I was throroughly impressed with the humanity and rawness used by Larson when portraying the Bohemian way of life of Alphabet City tenants, in New York, during the HIV/AIDS epidemic. I also loved the fact that “Rent” was a sung-through musical, a characteristic that “Hamilton” borrowed from it. Larson's original songs, mostly belonging to the rock genre, are simply amazing, dealing with themes like poverty, abuse, prejudice, addiction and frustrated dreams in an extremely realistic and sensitive way, perfectly developing its diverse cast of characters.
The fact that Andrew Garfield would play the role of Jonathan in the adaptation of Larson's semi-autobiographical musical and its first positive reviews after its premiere in New York made my expectations all the more higher, and I am really, really glad to say that not only “tick, tick... BOOM!” is the best movie musical of the year so far (yes, we'll still have a few other musicals in 2021), it's also one of the best films of 2021, having wide capacities of being successful in the upcoming award season and also reaching nominations for the main Oscar categories next year, most specifically Best Picture, Best Director for Lin-Manuel Miranda, Best Actor for Andrew Garfield, and, as you'll be able to see in the following paragraphs, Best Adapted Screenplay.
Okay, with that said, let's talk about the screenplay. As previously stated, the musical's script was adapted to the screen by Steven Levenson, and the first thing that caught my eye was the approach chosen by the screenwriter and the director to work with the narrative originated by Larson. For those who don't know, “tick, tick... BOOM!” started off as a monologue by Jonathan Larson himself, where he told the story of his trajectory to bring a dystopian musical named “Superbia” to the stage, on the edge of his 30th birthday. And the interesting thing about Levenson's approach is that it has two main perspectives: the film transitions between scenes set in that monologue, performed in 1991, and the reenactments of the events told by Larson during that performance.
The dynamic between these two points of view is done in a very organic manner, in a way that it's almost impossible for the viewer to get lost. It's something that's pretty easy to follow. There's also some parts during these reenactments where the protagonist breaks the fourth wall, talking towards the camera, and simultaneously, towards his audience, in the monologue's perspective. This double perspective ends up mixing the film's main genre, which is the musical, with a hefty amount of drama, some pinches of comedy and even an impressive documentary vibe, especially in the parts that are set in the aforementioned monologue. I thought that creative choice was brilliant, because of the metalanguage it applies to the narrative as a whole.
Another highlight of the screenplay is its pacing, which, making justice to the title, transforms the film into a real ticking bomb. There's an intoxicating feeling of anguish and anxiety which runs through the movie's entire 2-hour runtime. And a great part of why the pacing is that fast can be explained by the screenwriter's choice of taking us into the protagonist's mind, one of the best creative decisions in this adaptation of “tick, tick... BOOM!”. Jonathan Larson spent 8 years of his life writing “Superbia”, isolating himself from the world and his inner circle of friends in order to complete his work under enormous pressure, both because of his expectations for the musical's success, and the effect of the HIV/AIDS epidemic on his life, which, prematurely, led three of his friends to their deaths. And Levenson's screenplay, working in tandem with Garfield's performance and a very well-calculated use of its technical aspects, manages to make the viewers themselves feel that pressure on their skin in an extremely effective way.
Another aspect worth praising in Levenson's work in “tick, tick... BOOM!” is its portrait of Larson's creative process when writing “Superbia”, another advantage coming from the screenplay's immersive approach inside the mind of its protagonist. There are several scenes where, out of nowhere, Jonathan has an idea. Then, he takes a notepad and writes down that idea. There are also several fantasy-like scenes (i.e.: musical numbers) that perfectly help developing Larson's mentality as a songwriter. Two clear examples can be found here: there's a musical sequence set in the diner in which the protagonist works, and several generations of Broadway actors show their faces, singing and dancing in an extremely well-choreographed number; and there's a scene where Jonathan doesn't have any inspiration and goes swimming at a pool, and then, deep down into the pool, he ends up finding the musical notes he needed to write a song.
Another narrative aspect that's worth highlighting in “tick, tick... BOOM!”, even though it's more about Lin-Manuel Miranda's directing than Levenson's screenplay, is all the passion that is put into the film by its cast and crew. I've said this earlier, but it's worth reaffirming: there wasn't anyone more perfect and fitting to helm this project than Lin-Manuel Miranda. From what was stated above, Miranda would be the closest we can get to a 21st-century Jonathan Larson. He's a declarated fan of Larson's work and he's familiar with the creative process of a musical theater writer, and Levenson uses both of these characteristics from the director to please two audiences at the same time: the screenplay introduces the world of musical theater in a very intuitive, didactic way to those who weren't familiar with it; and inserts some delicious references for the most fervent fans of Broadway and Larson's own work, such as “Rent”.
One last highlight I'd like to make about the screenplay of “tick, tick... BOOM!” are the themes it deals with, and they vary from universal ones to some that are more specific of the musical theatre market. The approach of relevant themes such as anguish, anxiety, mental health, depression, chasing your dreams and believing in yourself when no one else does helps the viewer visualize Jonathan Larson's story as one of overcoming obstacles and succeeding in life, even with his premature death. There's a razor-sharp criticism on originality in musical theater, and the way that Miranda and Levenson find of conveying that criticism is nothing but brilliant.
But, the most recurrent theme here, certainly, is that of leaving a legacy, in a way of “what you will leave to the world when you leave”. And the most impressive thing about this theme is how it runs through the entire body of work of both Jonathan Larson and director Lin-Manuel Miranda. In “tick, tick... BOOM!”, Jonathan is constantly worried in completing his musical, which he thinks will be his legacy to the world. In “Rent”, one of the protagonists, Roger, is concerned about writing one last song before he passes away, as an HIV-positive person. In “In the Heights”, the characters keep themselves connected to their forefathers' legacy for their culture to survive. And in “Hamilton”, the title character is constantly worried about the legacy he'll leave to the world. See how Miranda was the perfect person to direct this film?
And, to cap off this screenplay part, an interesting parallel could be made between the HIV/AIDS epidemic and the COVID-19 pandemic, which would give “tick, tick... BOOM!” a necessary, timeless and urgent vein for today's times. Just like AIDS, the coronavirus has taken lots and lots of lives prematurely, and led many people into having problems with anguish, anxiety and even depression, because of the virus's quick and massive proliferation. One reason to justify this parallel could be the film's frenetic and fast pacing, which makes the work feel like a bomb about to explode. That creative choice ends up giving the adaptation an extra symbolic meaning, due to Jonathan Larson's premature death at 35 in 1996.
To sum it up, the screenplay for “tick, tick... BOOM!” manages to successfully portray the creative process of one of musical theater's greatest geniuses, thanks to the inventive approach of its two main perspectives; to the narrative's quick pacing, which injects Jonathan Larson's trajectory with an omnipresent feeling of anguish and anxiety; and to the themes approached in the plot, which give the film a relevant, timeless and necessary feel, awakening possible comparisons between the film's setting and today's times. Here's to hoping it gets nominated to the Oscar for Best Adapted Screenplay!)
Aí vai uma curiosidade: nos palcos, “tick, tick... BOOM!” conta com apenas três pessoas no elenco: um homem interpretando Jonathan; outro homem interpretando o colega de quarto do protagonista, Michael, e os outros personagens masculinos; e uma mulher interpretando a namorada de Jonathan, Susan, e as outras personagens femininas. Na adaptação dirigida por Lin-Manuel Miranda, o maior foco é justamente no trio principal de personagens, ou seja, Jonathan, Michael e Susan, mas há alguns diferenciais que valem a pena destacar, especialmente nos papéis coadjuvantes.
Começando pelo Andrew Garfield, que está impecável aqui. A atuação dele em “tick, tick... BOOM!” é uma daquelas onde o ator simplesmente se torna o personagem, tamanho o compromisso de Garfield com o papel. Além de ser fisicamente muito parecido com Jonathan Larson, o ator faz um ótimo trabalho em transmitir as emoções passando pela cabeça de alguém sob enorme pressão, contando com o auxílio de tiques nervosos e uma manipulação fantástica da voz para exprimir a ansiedade do personagem através da performance física e do diálogo. E ainda por cima, sim, senhoras e senhores: o Espetacular Homem-Aranha (que vai voltar em “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa”. Pronto, falei. Pode vir, Kevin Feige, que eu não tenho medo de você e do seu boné, não... [Risos]) canta, e demais! Quase nem dá pra acreditar que ele não teve uma aula de canto sequer antes de conseguir o papel. É algo impressionante. Ainda preciso checar os concorrentes, mas Andrew Garfield está atualmente em primeiro lugar na minha lista de favoritos para o Oscar 2022 de Melhor Ator.
Os personagens do Robin de Jesús e da Alexandra Shipp são as principais maneiras utilizadas pelo roteirista para dar continuidade ao desenvolvimento do protagonista, e os dois atores fazem um trabalho muito bom aqui. Eu gostei bastante do Robin de Jesús, especialmente em como ele lida com as expectativas contrastantes entre o futuro de seu personagem e o do melhor amigo. É possível ver, através da atuação de Jesús, que o Michael se importa bastante com o Jonathan. Essa amizade entre os dois é um dos principais fios condutores emocionais de “tick, tick... BOOM!”, e Garfield e Jesús têm uma química inegável juntos, mais forte até do que a de Jonathan com a namorada. Falando em namorada, a Alexandra Shipp tem menos material para trabalhar, em comparação com Jesús, mas ela faz um excelente trabalho ao exprimir a frustração de estar em um relacionamento com alguém que tem outras prioridades. Há uma canção que a personagem dela canta perto do final que é simplesmente maravilhosa. A melhor do filme, eu diria.
Já no lado coadjuvante, temos performances competentes de Vanessa Hudgens, Joshua Henry, Bradley Whitford e Mj Rodriguez. Eu adorei o quão pouco o roteirista nos deixa saber da personagem da Vanessa Hudgens, e no que a atriz falta de desenvolvimento em sua personagem, ela compensa nas canções que ela participa, com uma performance vocal perfeita. Não há muito para o Joshua Henry trabalhar fora do canto, mas pelo menos, ele dá um show nas sequências musicais de seu personagem. O Bradley Whitford interpreta um dos melhores personagens do filme, como uma figura de mentor para o protagonista. Há uma troca de diálogos contrastante e hilária entre o personagem dele e o do Richard Kind que é um dos melhores momentos de alívio cômico no longa. Ele não tem nenhuma parte cantada, mas queria muito que ele fosse indicado à Melhor Ator Coadjuvante. E, por fim, a Mj Rodriguez fica responsável em grande maioria pela exposição de eventos que irão desencadear um desenvolvimento maior por parte do protagonista, sem infelizmente ter o seu próprio desenvolvimento.
(Here's a fun fact: in the stage, “tick, tick... BOOM!” relies on only three cast members: one man playing Jonathan; another man playing the protagonist's roommate, Michael, as well as all other male characters; and a woman playing Jonathan's girlfriend, Susan, as well as all other female characters. In the film adaptation directed by Lin-Manuel Miranda, the larger focus is, indeed, in the main trio of characters, meaning, Jonathan, Michael and Susan, but there are some noticeable differences that are worth highlighting, especially when it comes to supporting characters.
Starting off with Andrew Garfield, who is flawless here. His performance in “tick, tick... BOOM!” is one of those where the actor simply becomes the character he's playing, just to show you how committed Garfield is with his role. Besides being very physically similar to Jonathan Larson, the actor does a great job in conveying every emotion going through the head of someone who's under enormous pressure, relying on the aid of nervous tics and a fantastic manipulation of his voice in order to express his character's anxiety through physical performance and dialogue. And as the cherry on top, yes, ladies and gentlemen: the Amazing Spider-Man (who will return in “Spider-Man: No Way Home”. There, I said it. Come at me, Kevin Feige, I'm not scared of you and your cap... [LOL]) sings, and like a goddamn angel! You almost can't believe that he didn't have one singing lesson prior to him getting the role. It's something impressive. I still gotta check out the competition, but for now Andrew Garfield holds the number one spot for my favorite picks to win the 2022 Oscar for Best Actor.
Robin de Jesús and Alexandra Shipp's characters are the main way used by the screenwriter to continue with the main character's development, and both actors do a really good job here. I really liked Robin de Jesús, especially on how he deals with the contrasting expectations between his character's future and his best friend's. You could actually see, through Jesús's performance, that Michael cares about Jonathan a lot. This friendship between the two of them is one of the main emotional conductive forces of “tick, tick... BOOM!”, and Garfield and Jesús have an undeniable chemistry together onscreen, even stronger than Jonathan's chemistry with his own girlfriend. Speaking of girlfriend, Alexandra Shipp has less material to work with, in comparison to Jesús, but she does an excellent job in expressing the frustration of being in a relationship with someone who has other priorities. There's a song her character sings near the ending that is simply wonderful. The best song in the whole film, I'd say.
In the supporting side, we have competent performances by Vanessa Hudgens, Joshua Henry, Bradley Whitford and Mj Rodriguez. I loved how little the screenwriter lets us know about Vanessa Hudgens's character, and in what the actress lacks in regard of her character's development, she makes it up with the songs she participates in, with a pitch-perfect vocal performance. There's not much for Joshua Henry to work with outside of singing, but at least he gives showstopping performances in his character's musical sequences. Bradley Whitford plays one of the film's best characters, as a mentor figure to the protagonist. There's a contrasting, hilarious dialogue exchange between his character and Richard Kind's, which is one of the film's best comic relief moments. He doesn't have any singing bits, but I really wish he could be nominated for Best Supporting Actor. And, at last, Mj Rodriguez is mainly responsible for the exposition of events that'll trigger a larger development for the protagonist, unfortunately, without her character having a development to call her own.)
Como dito anteriormente, os aspectos técnicos são muito bem utilizados para transmitir o sentimento de ansiedade e angústia, o qual é quase onipresente no roteiro. A direção de fotografia da Alice Brooks trabalha em conjunto com a montagem do Myron Kerstein e do Andrew Weisblum com esse objetivo em mente. Eu gostei bastante como, em alguns dos números musicais, as tomadas são mais prolongadas, enquanto, nas sequências de diálogo, há um uso constante de cortes rápidos. Também achei as transições entre as duas ambientações principais do filme muito bem feitas. Não há nenhuma diferença visível na composição visual dos dois cenários, o que é bom e injeta um tom mais uniforme aos números musicais, os quais, às vezes, ocorrem simultaneamente no monólogo e na dramatização.
Eu preciso ver o filme de novo para ver se minha suposição está certa, mas pelo uso constante de tique-taques pela equipe de edição e mixagem de som, provavelmente deve ter um relógio em cada ambientação. Se for verdade, é um baita de um easter egg no departamento de direção de arte. Além do movimento constante dos ponteiros de um relógio ser um bom método de expressar passagem de tempo, é também uma maneira perfeita de transmitir a ansiedade e a sensação de tempo perdido que passa pela cabeça do protagonista. Pode muito bem ser um dos principais indicados à categoria recém-inaugurada de Melhor Som no Oscar, ano que vem. Os números musicais são muito bem trabalhados. Alguns são mais íntimos, já outros esbanjam na coreografia, o que dá um tom lúdico e jovial às letras compostas por Larson.
E, por fim, temos o que faz um musical ser um musical: a trilha sonora, composta inteiramente por Jonathan Larson. Eu gostei de como a direção escolheu usar algumas canções que não estavam presentes nas montagens de palco feitas após a morte de Larson, mas faziam parte do monólogo inicial da obra. O ritmo delas é basicamente o mesmo de “Rent”, então se você curte as músicas daquele musical, tem altas chances de gostar dessas aqui. Os temas abordados nas canções são basicamente os mesmos trabalhados no roteiro, e há três músicas em particular que gostaria de destacar: a música de abertura, que consegue ser meio deprimente, mas ao mesmo tempo viciante; o dueto do Jonathan com o Michael, que possui uma dualidade fantástica, sendo uma canção de rock e, ao mesmo tempo, algo composto pela Disney; e a canção cantada pelas personagens da Vanessa Hudgens e Alexandra Shipp, que pode muito bem ser a melhor música do filme inteiro. Uma pena que estas canções já foram lançadas antes da adaptação, porque se não fosse o caso, o Oscar já ia para elas.
(As previously stated, the technical aspects are very well used to convey the feeling of anxiety and anguish, which is almost omnipresent in the screenplay. Alice Brooks's cinematography works in tandem with Myron Kerstein and Andrew Weisblum's editing with that objective in mind. I really enjoyed how, in some of the musical numbers, the shots are more overlong, yet, in the dialogue sequences, there's a constant use of rapid, quick cuts. I also thought that the transitions between the film's main two settings were really well done. There isn't any visible difference in the visual composition of both sets, which is good and injects a more uniform tone to the musical numbers, which, sometimes, occur simultaneously in the monologue and in the reenactment.
I need to see the film again to see if my suspicions are right, but because of the constant use of clock ticking by the sound editing and mixing teams, there's probably a watch or a clock in every single set. If it's true, it's one hell of an easter egg in the production design department. Besides the fact that the constant movement of the hands of a clock is a good method of portraying the passage of time, it's also a perfect way of conveying the anxiety and the feeling of lost time that have been going through the protagonist's head. It might as well be one of the main nominees to the recently renamed Best Sound category in next year's Oscars. The musical numbers are very well worked through. Some of them are more intimate, yet others run wild when it comes to choreography, which gives a playful, youthful tone to Larson's lyrics.
And, finally, we have what makes a musical a musical: the soundtrack, composed entirely by Jonathan Larson. I liked how the directing chose to use a few songs that weren't in the stage musical's productions after Larson's death, but were a part of the work's initial monologue production. Their rythym is very similar to those from “Rent”, so if you liked the songs from that musical, there's a high chance you'll like these ones. The themes approached in the songs are basically the same ones worked in the screenplay, and there are three particular songs I'd like to highlight: the opening song, which manages to be a little depressing, yet highly addictive; Jonathan's duet with Michael, which has an amazing duality, being a rock song and, simultaneously, something composed by Disney; and the song sung by Vanessa Hudgens and Alexandra Shipp's characters, which might as well be the best one in the entire film. Too bad these songs were already released before the film, because, if otherwise, they would've made it big at the Oscars.)
Resumindo, “tick, tick... BOOM!” não é só o melhor musical do ano, mas também um dos melhores filmes de 2021. Guiado pela direção apaixonada (e estreante) de Lin-Manuel Miranda; um roteiro imersivo, necessário e inventivo; a melhor atuação da carreira de seu protagonista; aspectos técnicos que esteticamente acentuam os temas principais da trama e um conjunto de canções digno de estar na playlist de qualquer amante da Broadway, o filme consegue mergulhar fundo no processo criativo de um dos maiores gênios do teatro musical, sendo uma bela homenagem à uma estrela em ascensão que parou de brilhar cedo demais.
Nota: 10 de 10!!
É isso, pessoal! Espero que tenham gostado! Até a próxima,
João Pedro
(In a nutshell, “tick, tick... BOOM!” is not only the best movie musical of the year, but also one of the best films of 2021. Led by Lin-Manuel Miranda's passionate (and debut) direction; an immersive, necessary and inventive screenplay; a career-best performance by its protagonist; technical aspects that aesthetically enhance the plot's main themes and a set of songs that's worthy of being in any Broadway lover's playlist, the film manages to dive deep into the creative process of one of musical theater's greatest geniuses, being a beautiful homage to a rising star that stopped shining way too soon.
I give it a 10 out of 10!!
That's it, guys! I hope you liked it! See you next time,
João Pedro)